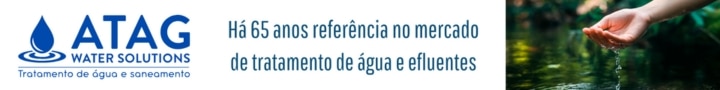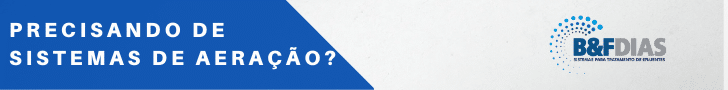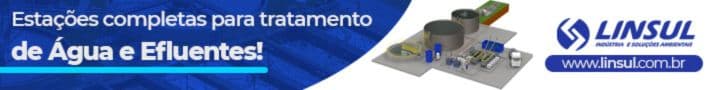O presente artigo é resultado de um convite recebido de um colega para que, em uma entrevista, eu expusesse algumas considerações sobre a influência de pensadores e filósofos no Direito Ambiental Brasileiro. Aceitei o convite, mas com um pouco de receio, por ser um tema extremamente interessante, mas desafiador.
Interessante pela possibilidade de expor um pouco a minha visão sobre a leitura de alguns pensadores estrangeiros tão citados no Direito Brasileiro, mas desafiador porque depois de ler suas obras e comparar com a impressão que tinha delas antes de lê-las na íntegra, tive a percepção de que havia ali uma grande distância.
No Brasil, muitas vezes, pensadores são citados e suas teorias usadas como mera fonte de argumentação ou de construção de uma ideia. Mas, ao ler suas obras, verificamos que, muitas teorias são difundidas só parcialmente e por quem decidiu usá-las para formular suas próprias teorias, o que necessariamente dá uma visão parcial do que de fato o pensador pensa e expõe.
Talvez no Direito, em que advogados tem a tendência de construir suas peças processuais para convencer um terceiro, análises e leituras parciais de conteúdo doutrinário sejam mais comuns do que em outras áreas de conhecimento.
Mas vejam que, não estou aqui pretendendo dizer que minha leitura das obras dos três pensadores sobre os quais falarei adiante seja melhor ou mais correta do que a leitura feita por outros autores de Direito, em especial de Direito Ambiental, por advogados, juízes, promotores ou Ministros das Cortes Superiores, que referenciam tais autores em suas peças e obras.
Pretendo, simplesmente, fazer o leitor perceber que, pela densidade de tais obras e por um viés (ou olhar) que é natural a qualquer leitor de um livro, não há outra forma de conhecer o que pensa de fato um pensador ou um filósofo, senão através da leitura de seus próprios textos. Em verdade, só se pode verdadeiramente dizer que conhece o que um filósofo pensa, após ler a íntegra de suas obras, pois muitas formam uma cadeia de pensamento cuja compreensão se revela ao final.
A leitura de um comentário sobre obras de grandes autores, ou uma nota de rodapé em um livro é um mero corte do que o pensador de fato pensa.
Tive a sorte no Mestrado de ter professores que me incentivaram a ir às fontes, ler os livros autorais, ao invés de comentários, resenhas ou citações de outros autores ou de manuais. E, tanto na entrevista que concedi, com muita alegria, como nos capítulos que se seguem, minha intenção é estimular o leitor não a me citar ou acreditar piamente no que digo, mas a fazer o mesmo: ir às fontes.
Apresentarei a seguir, a minha visão, que é necessariamente parcial, pessoal e individual, sobre o que dizem Ronald Dworkin, Ulrich Beck e Roger Scruton nas obras indicadas na bibliografia deste texto e sobre a aplicação desta minha visão sobre o que dizem, ao Direito Ambiental Brasileiro.
Este texto seguirá a divisão por autor, mas ao final, serão apresentadas algumas considerações sobre como eles se intercalam e inter-relacionam.
Ronald Dworkin – Levando Direitos a Sério
Dworkin é conhecido no Brasil por seu livro “Taking Rights seriously” ou “Levando direitos a sério”. Dworkin foi um filósofo e jurista norte-americano que estudou e escreveu sobre o direito constitucional norte-americano.
E, nesse sentido, antes de fazermos qualquer consideração sobre sua obra, é necessário entender as diferenças que existem entre o direito constitucional norte-americano e o brasileiro, que começa pela diferença entre as Constituições desses dois países e sem entender que a “lei” aqui e lá decorrem de sistemas muito diferentes. Enquanto aqui vivemos em um sistema codificado de leis, lá, as leis são construídas pela jurisprudência dos Tribunais – são construídas de baixo para cima, até se considerarmos que muitos casos são submetidos a júri popular.
Um outro ponto importante é que, por uma questão linguística, faz muito mais sentido ler a obra desse autor em inglês do que em português, pelo simples fato de que em inglês a palavra “right” significa tanto “direito” quanto “certo”.
Em uma passagem do livro, o autor diz por exemplo que o fato de uma pessoa ter “direito” a reagir ou não obedecer, por exemplo, uma lei (e aqui, leia-se lei construída por jurisprudência, como é atinente ao sistema de common law e como uma contraposição aos “constitutional rights”), não significa que essa pessoa esteja “certa” em fazer isso. O autor fala ainda que, o fato de a pessoa ter direito de resistir não significa que não assista ao Estado ou a outra pessoa, igual direito de resistir ao que a primeira fez ou faz.
O reconhecimento social de que uma pessoa tem direito de fazer alguma coisa contrária, por exemplo, à lei, importaria somente no reconhecer que nas circunstâncias em que ela se encontrava era razoável que assim agisse.
Em inglês, portanto, as colocações do autor fazem mais sentido semântico, apesar de que devemos reconhecer a profundidade de sua análise.
É preciso fazer mais uma contextualização: Dworkin escreveu sua filosofia em contraposição à Hart. A filosofia normalmente se constrói por teses e antíteses. Hart é um teórico positivista moderno que entende a aplicação do direito como algo que deve decorrer da aplicação da lei posta, positivada, escrita. Por outro lado, diferente de outros teóricos positivistas, Hart entende que há casos em que a lei não se adequará perfeitamente ao caso concreto, ou que a lei não conseguirá resolver o caso concreto, por não contemplá-lo. Nesses casos, Hart entende que o juiz julgará de forma discricionária.
Dworkin, junto de outros autores, inaugura o pós-positivismo, através da oposição direta ao pensamento de Hart. O autor se opõe especificamente à discricionariedade do juiz para a decisão dos casos em que a lei não preveja solução. Dworkin então propõe e atribui o que, por aqui, chamamos de “força normativa dos princípios”, mas que em Dworkin significa atribuir força vinculante aos “rights”, ou seja, aos direitos, que para nós seriam os direitos fundamentais, inscritos na Constituição Federal.
É importante notar que, quando Dworkin fala desses direitos, ele se refere aos direitos constitucionais descritos na Constituição norte-americana, que é muito mais restrita e direta do que a nossa carta constitucional, com seu amplo e vasto rol de direitos fundamentais de 1ª, 2ª e 3ª geração, detalhados e desmembrados.
De toda forma, ao se opor à discricionariedade do julgador para decidir, Dworkin entende que o julgador deve buscar no sistema jurídico (e não em suas meras convicções) a solução para o caso concreto, especificamente no que Dworkin chama de casos difíceis. É de se notar que o autor não contempla o uso de princípios ou de “direitos” para solução de qualquer caso submetido à Corte, mas somente aos casos para os quais a lei não dá solução.
O autor diz que é plenamente possível haver casos em que advogados (de lados opostos) e razoáveis, entendam um direito de forma diferente e não consigam formular argumentos jurídicos suficientes para convencer o outro. Assim, seriam esses casos em que não há um certo e um errado, mas casos em que mais de uma solução poderiam ser entendidas como certas.
E a solução para tais casos deveria vir da aplicação dos “rights” e não da “law”.
Note-se que, não há (pelo menos, eu não vi) na teoria desenvolvida no “Taking the rights seriously” a permissão do autor para um uso indiscriminado dos “direitos” em contraposição à lei.
Ou seja, não há, em sua teoria uma autorização para que julgadores apliquem princípios e valores em contraposição às leis. Ele trata sim da “desobediência civil” e escreve que ela pode ser considerada um “direito” (na verdade, uma conduta moralmente justificável) daquele que resiste à lei, mas também diz que isso não importa em automaticamente se afastar a lei. Tanto é que ele escreve que o fato de se entender que uma pessoa tinha o “direito” de desobedecer a um comando normativo não significa que o Estado não terá o “direito” de se opor a sua conduta ou que seja “certo” ao indivíduo desobedecer a norma.
Mas o que Dworkin tem a ver com o Direito Ambiental?
A teoria da força normativa dos princípios ou dos direitos fundamentais vem sendo usada indistintamente pela doutrina e Cortes Brasileiras. Muitas vezes, para além dos princípios objetivamente descritos na carta constitucional, vemos doutrina e jurisprudência criando princípios novos, retirados de uma suposta leitura alargada do texto constitucional ou de uma interpretação do texto constitucional à luz de tratados internacionais, por exemplo.
Esse efeito certamente não foi o pretendido por Dworkin que lutou tão severamente contra a discricionariedade judiciária descrita por Hart.
Dworkin fala, por exemplo, que princípios podem ser vagos e permitir divergências entre advogados e podem até levar a decisões diferentes, mas o processo deve ser sempre uma descoberta do Direito, e não uma invenção.
Outro ponto que apesar de usar, por vezes, o nome do autor e de outros autores da teoria pós-positivista, mas que não encontra lugar na obra de Dworkin, é o entendimento de que haveria qualquer “super direito” no ordenamento jurídico. No Direito Ambiental, é comum vermos a adoção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um “sobre-direito” para o qual todos os demais direitos fundamentais devem sucumbir.
A doutrina e jurisprudência chegam a criar princípios como o da “vedação de retrocesso”, que além de ser vago em demasia (não há qualquer definição do que se entende por retrocesso ambiental) não tem sede constitucional.
Tais fatos, criticados pela (a nosso ver) melhor doutrina, certamente arrepiariam Dworkin, na medida em que usam alegadamente de sua teoria para criar uma justificativa vazia para um decisionismo e discricionariedade judiciária, contra o que o autor tanto se insurgiu.
Ulrich Beck e a sociedade de risco
Beck foi o sociólogo criador do conceito de “sociedade de risco”. Sua influência sobre o direito ambiental brasileiro é inegável, na medida em que manuais e diversos autores que trabalham o direito ambiental, partem de uma constatação de que vivemos uma “sociedade de risco” para defender diversas medidas, mecanismos e condutas protetivas ao meio ambiente.
Há autores, por exemplo, que justificam uma adoção ampliada do princípio da precaução, a impedir determinadas condutas e atividades, pelo fato de se viver em uma sociedade de risco, decorrente e inerente à sociedade industrial e tecnológica.
Beck é autor de três grandes livros sobre a sociedade de risco. O primeiro deles, que cunhou a expressão, escrito em 1986 (quando ainda vivíamos a Guerra Fria e o mundo estava dividido entre o Ocidente e o Oriente), o segundo que trata da “Sociedade de risco mundial” e o terceiro, que é uma obra inacabada, finalizada e compilada por um de seus discípulos, que chama Metamorfose do Mundo.
No primeiro trabalho – e, de alguma forma, também no segundo – Beck é absolutamente criterioso com a definição do que seria a sociedade de risco e dos perigos inerentes ao fato de vivermos à época e certamente ainda hoje, uma sociedade de risco.
Primeiro, a sociedade de risco teria substituído a sociedade de classes. Enquanto esta seria impulsionada por um desejo de igualdade, a sociedade de risco, seria impulsionada pela segurança – sua falta e o desejo urgente por ela.
Assim, como diz o autor, a sociedade de risco é particularmente defensiva e negativa e importa em uma solidariedade do medo.
Ou seja, a comunidade e as pessoas individualmente consideradas não são mais movidas por um desejo de se tornar iguais à “classe superior” ou “dominante”, mas elas se unem pelo medo dos riscos tecnológicos ou catastróficos.
E essa solidariedade do medo, segundo Beck, é uma força política importante.
O autor diz que se por um lado o risco é ruim para alguns mercados, ele gera outros mercados. E pode alavancar o comércio, a economia.
O autor questiona: “Será que não basta um leve sopro de contrainformação para que a solidariedade do medo desabe?”
Adicionalmente o autor expõe que na sociedade de risco, não são mais os afetados por um dano ou uma ameaça que procuram os especialistas de risco, mas os especialistas de risco que definem quem são (e escolhem) os afetados. Estudos científicos sobre medicamentos, sobre efeitos climáticos, podem sim ser exemplos de situações em que a ciência descreveu a “ameaça” antes mesmo de ela ser percebida por qualquer afetado.
O autor cita, como exemplo, o uso do DDT e a tolerância a pesticidas. A partir do momento em que se definiu que aquele pesticida é uma ameaça e importa em um risco, mesmo que, por descobertas científicas posteriores se possa descobrir que o limite de tolerabilidade era mais alargado, o fato é que a divulgação, propagação e consequente percepção do risco (independente do que possa ser a verdade) se torna uma questão política e econômica. Assim, admitir que se cometeu um erro (o que é e sempre foi absolutamente normal em ciência) pode gerar uma catástrofe política ou econômica e passa a dever ser evitada.
O autor faz uma distinção entre o risco e a percepção do risco, para, no segundo livro, dizer que se tornou “irrelevante o fato de que vivemos em um mundo mais seguro do que todos os que nos precederam, porque a percepção do risco (ainda que exagerada ou ainda que posteriormente desmentido) obriga o agir”. Obriga o Estado a agir.
O autor escreve que “se as pessoas vivenciam um risco como algo real, ele é real”. E nesse cenário, e numa busca irrefreada por segurança, o Estado de exceção se converte em normalidade. O exemplo do autor para essa afirmação é a normalização da flexibilização dos direitos à privacidade e liberdade, como as revistas em aeroportos, a constante vigilância através de câmeras de segurança, em prol de uma suposta segurança.
Uma das principais preocupações do autor com a exacerbação da percepção do medo que é, em grande medida, potencializada pela exposição midiática de determinados riscos – e aqui tem lugar o capítulo em que o autor trata do terrorismo, por exemplo – poderá ensejar (e hoje é absolutamente possível percebermos que o faz) uma demanda, um clamor social, por um Estado mais forte, um maior controle sobre a vida privada e a liberdade e, o pior de todos os efeitos, o que o autor chama de um “totalitarismo do bem”, que evidentemente não existe. O autor diz que o medo do mal pode acabar resultando em um mal ainda maior.
Tenho para mim que apesar de o autor defender as mudanças climáticas e a necessidade de seu enfrentamento global como um dos elementos da “metamorfose do mundo” e, portanto, uma realidade, elas podem ser um exemplo bastante próximo ao do terrorismo. Imaginem que estudos posteriores (e hoje até há quem defenda isso) comprovem com absoluta precisão que não há qualquer influência humana sobre o clima. Se considerarmos todo o mercado desenvolvido de energias renováveis, de capturas de carbono, toda as possíveis barreiras agrícolas inerentes ao desmatamento e queimadas no solo brasileiro, se seria possível política e economicamente voltar atrás e dizer: “erramos…”?
Aliás, o próprio Beck, ao tratar das mudanças climáticas em seu último livro, entende o fenômeno como um dos elementos da metamorfose do mundo, que segundo ele é uma mera constatação desprovida de qualquer avaliação valorativa. Ou seja, o autor usa o termo metamorfose justamente para afastar o fato de qualquer avaliação sobre a mudança pela qual estamos passando será boa ou ruim.
Se analisarmos a obra de Beck, portanto, é necessário reconhecer que não há nela qualquer conclame a adoção de uma prudência exacerbada ou a necessidade de maior controle estatal ou judicial das atividades de risco. Ao contrário, Beck se afasta disso e teme justamente o uso dos riscos inerentes à sociedade industrial e informacional e a sua exacerbação midiática capaz de potencializar e fomentar a percepção do risco, como um meio de implantação de um sistema de controles violadores dos direitos humanos.
Portanto, a grande influência do autor no direito ambiental brasileiro, a meu ver, também vem sendo usada de forma inadequada e pouco cautelosa, quando usa-se a expressão, sem explorar os fundados receios do uso político e econômico do medo, expostos pelo sociólogo.
Roger Scruton e sua Filosofia Verde
O terceiro e último autor sobre o qual gostaria de tratar nesse trabalho é um autor nada convencional e muito pouco lido e citado no Direito Ambiental Brasileiro.
Roger Scruton é um filósofo conservador atual. Ele faleceu em janeiro de 2020 e sua obra é viva, na medida em que ele produziu até muito recentemente. Entendo que seu livro “Filosofia Verde” deveria ser mais amplamente difundido não só dentre os teóricos do direito ambiental e ambientalistas, mas também por ativistas ambientais. E explicarei o porquê.
Por algum motivo, no Brasil, a defesa do meio ambiente é uma bandeira que muitos veem como uma bandeira de orientação política de “esquerda” e, portanto, não afeta ao conservadorismo, tradicionalmente alinhado com um viés político de “direita”.
Só que Scruton traz reflexões absolutamente pertinentes ao debate ambiental e às discussões sobre a proteção ambiental.
É importante que se diga que o autor é um crítico fervoroso das teorias utilitaristas (cujo maior expoente é Jeremy Bentham, cuja teoria visa uma maximização da felicidade e da utilidade para a sociedade) e do biocentrismo, que seria a visão sobre a valorização do ambiente enquanto tal e do Homem como apenas um integrante desse meio, sem que sobre ele possa exercer qualquer prevalência ou sobrepor-se). O biocentrismo, como sabemos, decorre da Teoria de Gaia, de Lovellock, e tem seguidores importantes no direito ambiental brasileiro.
Scruton defende que os revolucionários (que se opõem aos conservadores) são utilitaristas, por natureza e pela reconstrução social que normalmente defendem.
Sobre o debate antropocentrismo vs. biocentrismo, Scruton traz a perspectiva de que o ser humano é a única espécie capaz de apreciar coisas “inúteis” e atribuir valor intrínseco às coisas não humanas. Ele diz assim que a valorização do que não é útil – e mais, do que não é essencial para a sobrevivência da espécie – é inerente a espécie humana e a razão humana.
O autor diz que quando respeitamos o “valor intrínseco da vida selvagem, perpetuamos seus valores instrumentais, sua contribuição à biodiversidade e a todos que recebem seus benefícios”.
Ele vê uma conexão vital entre os valores intrínsecos de coisas não humanas e a motivação humana.
Só os seres humanos são capazes de grandes sacrifícios por coisas como o alimento, quando se tem fome, e o medo da morte, por algo que consideram mais importante. Só Humanos, diz o autor, são capazes de renunciar ao que querem por aquilo que valorizam. E essa moral existe porque somos governados por um senso de responsabilidade.
Como escreve o autor, a moral se dedica aos valores, aos direitos e deveres e com a questão sobre o que devemos aos outros.
A moral decorre do fato de nos responsabilizarmos mutuamente pelo que fazemos. E por isso, particularmente, entendo que é tão ruim a visão de que a responsabilidade por cuidar dos outros ou do meio ambiente é do Governo, do Estado ou dos países ricos e não nossa, minha e sua.
Em um outro momento do livro, o autor faz uma crítica ao direito intergeracional como descrito pela maioria dos filósofos, inclusive John Rawls, que é também, junto com Dworkin, tão citado e seguido, pela doutrina e jurisprudência brasileiras.
Segundo Scruton, esses filósofos tradicionais, tratam dos deveres impostos às gerações presentes para proteção das futuras, sem, contudo, tratar das motivações pelas quais elas devem fazê-lo.
O autor diz que a preocupação com as gerações futuras não decorre de uma justiça distributiva abstrata, mas da ligação humana com os outros, especialmente, nossos ancestrais, nossos filhos e sucessores.
O motivo moral da responsabilidade intergeracional está na solidariedade.
Scruton dedica um capítulo ao Heimat e o Habitat e nele desenvolve sua teoria da oikophylia, ou amor ao lar, baseada nos três pilares da motivação humana descritos por Edmund Burke, a quem Scruton sucedeu como filósofo conservador, que seriam “o respeito aos mortos, os pequenos pelotões e a voz da tradição”.
Scruton entende que o senso de responsabilidade com as futuras gerações surge do amor, especialmente do amor aos nossos ancestrais.
O autor diz que apesar de o futuro ser desconhecido, o passado é vivo e conhecido e o amor pelos que nos antecederam nos dá um dever de cuidado e retribuição para com os que nos sucederão. Assim, através da oikophylia, o lar é visto como o local onde a vida prossegue.
E esse senso de cuidado existe no pequeno círculo de convivência de cada pessoa, quando cada um cuida do seu “pequeno pelotão”, se amplia para a sua cidade, sua comunidade, seu país.
E como essa condição de cuidar do outro, de sua comunidade, é inerente à vivência humana e à moral humana, esses aspectos têm, em conjunto, o condão de fazer com que a sociedade global cuide, de forma solidária, da nossa “casa planetária”, como define Élida Seguin.
Scruton descreve também o movimento contrário, que seria da oikophobia. Segundo ele, seria o estágio percebido pelo adolescente que quer romper com seus pais e que gera uma cultura de repúdio.
E é nesse aspecto que Scruton se posiciona frontalmente contrário às visões e teorias revolucionárias e de ruptura com o status quo. O autor entende que a oikophobia e essa cultura de ruptura – e se formos para as redes sociais, temos a recente cultura do cancelamento – torna os problemas ambientais insolúveis. Isto porque, na sua visão, ou encontramos a solução para a preservação ambiental na “contemplação do lar e aprendemos a cuidar dele ou vagaremos sem rumo pelo mar de causas, agendas e pânico, sem nunca saber se estamos realizando ou frustrando nossos propósitos”.
O autor diz que seria “precisamente na luta contra o consumismo desenfreado que a esquerda e a direita deveriam se unir, estabelecendo uma aliança em nome do meio ambiente”.
Se analisarmos a obra de Scruton, podemos ver que sua teoria tem grande aderência com os princípios e valores dos que protegem e defendem o meio ambiente. Ele atribui motivação, propósito e responsabilidade individual a cada um de nós pelo cuidar do ambiente, de nossa comunidade, do próximo.
A teoria trata do respeito e dos deveres e responsabilidades e, nessa medida, nos parece aproximar-se de um outro filósofo também não muito explorado no direito ambiental brasileiro que é Hans Jonas, em seu “O princípio da responsabilidade”, que foi comentado com maestria, sob o viés da responsabilidade ambiental, por Margareth Bilhalva, que tem um ótimo texto sobre isso.
Correlação entre os pensamentos dos três autores
Analisadas as obras de Dworkin, Beck e Scruton, o que, em minha visão, há de comum?
Primeiro, é preciso reconhecer que o senso comum que se criou com o tempo e foi se desenvolvendo sobre suas obras é um mero corte do todo. Scruton, aliás, sequer é citado, tamanha a reserva e o preconceito que se cria sobre autores conservadores e a matéria ambiental.
Segundo que, em grande medida, os três autores preocupam-se não só com o ambiente ou estabelecem qualquer preponderância de uma proteção ao ambiente sobre outros direitos. Preocupam-se com a sociedade e a correlação existente entre o Homem, seus semelhantes e seu meio. Como vimos, Beck adverte severamente sobre os riscos decorrentes da politização ou o tratamento econômico da ciência e Dworkin se rebela contra qualquer voluntarismo das cortes estatais para defender o que quer que seja e em especial o afastamento da lei.
Ademais, vemos a importância de nos despir de preconceitos e de ir além de entendimentos aparentemente consolidados sobre o que dizem pensadores, pois a leitura de suas obras pode ser absolutamente surpreendente.
Referências Bibliográficas:
BECK, Ulrich (2011) – Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. 2.a ed. São Paulo: Editora 34, 2011. ISBN 978-85-7326-450-0.
BECK, Ulrich (2016) – Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Lisboa: Edições 70, 2016. ISBN 978-972-44-1857-5.
BECK, Ulrich (2018) – A Metamorfose do Mundo: novos conceitos para uma nova realidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. ISBN 978-85-378-1734-6.
DWORKIN, Ronald (2013) – Taking rights seriously. New York: Bloomsbury, 2013, ISBN: 978-1-7809-3833-2, [E-book].
JONAS, Hans (2006) – O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Editor PUC-Rio, 2006. ISBN 978-85-85910-84-6.
SCRUTON, Roger (2016) – Filosofia Verde: como pensar seriamente o planeta. São Paulo: É Realizações, 2016. ISBN 978-85-8033-218-6.
Luciana Vianna Pereira – é advogada formada pela UERJ, em 2004, pós graduada em Direito Ambiental pela PUC-Rio, em 2009, e em Gestão Ambiental pela COPPE-UFRJ, em 2018. Mestranda pela Universidade Autónoma de Lisboa, é autora de diversos artigos e professora em cursos de pós-graduação.
Fonte: Direito Ambiental.